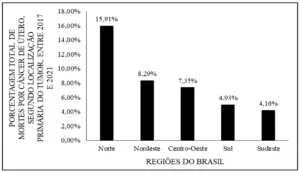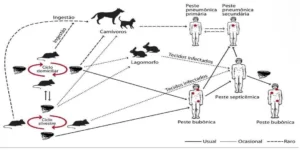REVISÃO BIBLIOMÉTRICA
SILVA, Márjorie Moreno [1], CUNHA, Maria Claudia [2], MENDES, Vera Lúcia Ferreira [3], SOUZA, Luiz Augusto de Paula [4]
SILVA, Márjorie Moreno et al. Psicanálise, neurociência e linguagem: articulações possíveis. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano. 10, Ed. 03, Vol. 01, pp. 80-89. Março de 2025. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/psicanalise-neurociencia
RESUMO
O presente estudo busca estabelecer possíveis articulações entre psicanálise, neurociência e linguagem, considerando suas intersecções e divergências teóricas e metodológicas. A partir de uma revisão bibliográfica narrativa, foram analisados cinco eixos principais: Sujeito cerebral, sujeito neuroquímico e sujeito psíquico; a plasticidade cerebral; o olhar; a memória; e a linguagem. Os resultados apontam para a viabilidade de uma abordagem integrada, que enriqueça tanto o campo teórico quanto a prática clínica.
Palavras-chave: Psicanálise, Neurociência, Linguagem.
1. INTRODUÇÃO
Como é ampla e popularmente sabido, para a psicanálise a experiência subjetiva é a condição de possibilidade das realizações e dos sofrimentos psíquicos; experiência subjetiva que se faz pelos modos de vida e de relação com o outro, portanto no jogo e na dinâmica social e ao longo da existência de cada sujeito, naquilo que poderíamos chamar de trama biográfica coletiva da existência de cada um de nós.
A neurociência do cérebro, por sua vez, ao estudar as funcionalidades e estruturas cerebrais, busca regularidades orgânicas que impactem comportamentos, condutas, faculdades cognitivas, linguísticas e da memória dos seres humanos, mas não enfatiza os sentidos que as experiências pessoais têm para cada um e como os sentidos particularizam esse sofrimento (sua intensidade e seus efeitos) nas condutas, nos comportamentos e na saúde pessoal e social (Bocchi; Viana, 2012).
Nesse sentido, as neurociências do cérebro e a psicanálise tem objetos de estudo e abordagens bastante distintas. No entanto, ainda que por caminhos teóricos e metodológicos singulares, possuem zonas de convergência em achados e formulações, que poderiam render interlocuções produtivas para ambos os campos de conhecimento. São alguns aspectos desses possíveis encontros que examinaremos a seguir.
Destaque-se que os sentidos do que está em jogo nas experiências psíquicas e em suas resultantes cerebrais (e corporais, de maneira ampla), derivam das maneiras pelas quais as vivências pessoais são sentidas, significadas e se expressam. Portanto, em boa medida, as dinâmicas biológicas e psíquicas dependem de como produzimos interlocuções; cada um consigo e com o outro.
Por sua vez, a comunicação (como ação em comum) é uma função e uma potência da linguagem, por meio da qual “a carne faz-se verbo” e vice-versa, ou seja, é por meio da linguagem que a vida psíquica afeta o cérebro e que as sensações e percepções corporais são significadas e ganham destino no funcionamento cerebral, fazendo trilhamentos sinápticos e metabolizando as experiências. Em outras palavras, é pela significação das relações com o outro que o cérebro constrói suas redes de funcionamento e, por meio delas, nossos estados corpóreos ganham destino psíquico, ou seja, ganham sentido (Bocchi, 2021).
Nessa perspectiva, isto é, considerando as diferenças e eventuais divergências epistemológicas, o objetivo desse estudo é, como mencionado, buscar possíveis articulações entre psicanálise, neurociência e linguagem.
2. MÉTODO
A partir de revisão bibliográfica narrativa que, tipicamente, busca subsidiar a discussão do tema pesquisado num recorte contemporâneo, estabeleceram-se 05 eixos teóricos de análise, a saber:
- Sujeito cerebral, sujeito neuroquímico e sujeito psíquico
- Plasticidade Cerebral
- Olhar
- Memória
- Linguagem
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sabe-se que as práticas biomédicas passaram por transformações relevantes nas últimas décadas; essas transformações são visíveis, inclusive, ao senso-comum dada, por exemplo, a incorporação de tecnologias laboratoriais, de imagem e procedimentais na prática cotidiana da medicina; transformações derivadas de avanços científicos e tecnológicos não negligenciáveis.
3.1 SUJEITO CEREBRAL, SUJEITO NEUROQUÍMICO E SUJEITO PSÍQUICO
Desequilíbrios químicos, de fato, podem acontecer em razão dos estados psíquicos, mas se a vida psíquica se resumisse à estabilidade bioquímica do cérebro, entre outras coisas, o arsenal de medicamentos atualmente disponíveis para atuar nos circuitos neurais deveria ter diminuído muito a incidência e a prevalência de transtornos mentais, o que não acontece. Ao contrário, a saúde mental tornou-se, nas últimas décadas, uma emergência de saúde pública, inclusive com vários estudos apontando os efeitos iatrogênicos da medicalização do sofrimento psíquico comum e também de certos transtornos psicopatológicos (Ferreira; et al., 2019).
Nesse contexto, a psicanálise insiste que a vida psíquica do humano, por funcionar no corpo e ter efeitos nas dinâmicas cerebrais e nas neurosubstâncias, é capaz – por meio das experiências interpessoais e sociais – de alterar temporária ou permanentemente o metabolismo cerebral, na mesma medida em que um desequilíbrio químico pode alterar condutas e estados psíquicos. O psiquismo humano não se resume ao cérebro como estrutura encerrada no plano anatômico e neurofisiológico do corpo. Ou seja, o psiquismo humano, para a psicanálise contemporânea, circula ao mesmo tempo “no dentro e no fora do corpo”, tanto nas interações e dinâmicas psicossociais como nas orgânicas, numa continuidade não negligenciável entre o orgânico e o social, entre o corpo e a cultura (Cândido, 2009).
Quando ficamos presos aos polos dessas diferenças entre neurociências do cérebro e psicanálise, o conhecimento ao invés de se abrir à multiplicidade de questões aí envolvidas, fecha-se e empareda um diálogo necessário.
3.2 PLASTICIDADE CEREBRAL
Mantilla (2017) chama a atenção para a noção de plasticidade cerebral, uma vez que, criada pela neurociência do cérebro, abriria espaço para um diálogo que, ao colocar em cheque o dualismo entre cérebro e mente, contribuiria para a compreensão da subjetividade em termos cerebrais.
A autora refere que um dos dogmas que caracterizaram os estudos científicos do cérebro até algumas décadas atrás era a afirmação de que o cérebro se desenvolve apenas durante a primeira infância. No entanto, estudos posteriores demonstraram de forma conclusiva que, diferentemente, o cérebro modifica-se e adapta-se à novas circunstâncias e exigências ao longo da vida. Tal maleabilidade definiria a plasticidade cerebral, tanto na capacidade de regeneração relativa de áreas cerebrais, quanto na transformação do funcionamento cerebral em razão das experiências subjetivas e sociais.
Em direção próxima, Scorza e Cavalheiro (2013) sugerem que a psicanálise, ainda que indiretamente, também opera com a plasticidade cerebral, uma vez que a elaboração e a ressignificação de experiências, que advém do tratamento psicanalítico, podem estimular a reorganização de trilhamentos sinápticos, o que, naturalmente, também produziria impacto nas redes neurais ao longo da vida do sujeito.
Mantilla (2017) adverte que há diferentes abordagens sobre a plasticidade cerebral. Não é nossa intenção rastreá-las, apenas destacamos a que Mantilla (idem) aponta como capaz de colocar em diálogo a psicanálise e as neurociências do cérebro, enfatizando que experiências psíquicas e sociais podem resultar em alterações nas dinâmicas e estrutura do funcionamento cerebral. As experiências subjetivas fazem marcas nesse funcionamento, o cérebro é, em alguma medida, esculpido pelas experiências dos sujeitos.
3.3 OLHAR
Se a plasticidade cerebral, que é uma noção advinda das neurociências, oferece um campo de diálogo para as disciplinas em questão, há outras possíveis zonas de convergência que derivam de formulações psicanalíticas, uma delas está presente em Lacan (1985). O psicanalista francês refere-se ao processo de olhar e ser olhado pelo outro. Entre outras coisas, as considerações de Lacan permitem inferir que uma lesão orgânica pode transtornar o olhar do outro sobre o sujeito, e dele sobre si mesmo. Por outro lado, o olhar do outro também é capaz de compor as causas de agravos do corpo, como, por exemplo, nos chamados transtornos psicossomáticos.
Significa dizer: as doenças do corpo não são exclusivamente causadas e mantidas pelas dinâmicas corporais (anatomofisiológicas, fisiopatológicas ou neuropatológicas) como é ainda frequentemente pensado, elas também advêm da vida relacional e das forças psíquicas que as regem; o que reafirma a indissociabilidade entre mente e cérebro, tal como a perspectiva da plasticidade cerebral aqui apontada também o fizera.
Tanto a questão da plasticidade cerebral quanto a do “olhar” sustentam a indissociabilidade entre mente e cérebro, abrindo espaço para outras duas temáticas levantadas em nossa revisão bibliográfica narrativa, que estão na base do possível diálogo entre psicanálise e neurociências do cérebro: memória e linguagem.
3.4 MEMÓRIA
Na psicanálise, o corpo é concebido como um repositório dinâmico de narrativas biográficas. Freud (1895/2006) introduziu o conceito de memória como intrínseco à habilidade do aparelho psíquico em assimilar novas percepções de forma ilimitada, por meio de sistemas perceptivos e mnêmicos. Nesse sentido, Ribeiro Junior e Silva (2021) destacam a conexão entre a memória e os traços mnêmicos duradouros, que correspondem a representações mentais de experiências passadas, as quais podem ser remodeladas conforme as necessidades e transformações subjetivas.
Freud (1895), no “Projeto para uma Psicologia Científica”, ainda propõe um sistema neuronal composto por três dimensões: a percepção, a memória e as qualidades sensoriais. A memória, segundo ele, é constituída a partir das “facilitações” entre neurônios, ou seja, conexões duradouras são criadas na medida em que a experiência é vivida e/ou de acordo com sua intensidade. Assim, a memória vai além da mera evocação de eventos passados, existindo de forma inconsciente e se consolidando por meio das reorganizações sucessivas desses traços (Santos, 2019).
Em seu trabalho “Uma nota sobre o bloco mágico” (1925 [1924]), Freud demonstra que essas memórias podem ser alteradas ao longo do tempo, mas não são apagadas, podendo coexistir e se sobrepor a novas memórias. Para Ribeiro Júnior e Silva (2021), isso reforça a ideia de que a memória reside no domínio do inconsciente, sendo composta por traços não diretamente acessíveis à consciência, cuja percepção consciente é uma representação desses traços.
Santos (2019) destaca que Lacan, em sua interpretação dos escritos de Freud, em “O Seminário 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise”, enfatiza que a memória não é apenas uma ferramenta de recuperação de experiências, mas uma função estruturante do psiquismo, que opera a partir da linguagem e das associações inconscientes. Assim, a memória é concebida como múltipla e dinâmica, organizando o inconsciente e oferecendo uma base para a compreensão dos fenômenos psíquicos, incluindo sonhos e sintomas (Santos, 2019).
Dessa forma, nossa história e destino, inevitavelmente, manifestam-se deixando marcas tanto em nossa mente quanto em nosso corpo. Tais marcas formam um universo simbólico que molda a vivência humana (Ávila, 2019). Assim, Pinheiro e Herzog (2017) enfatizam a relevância em se adotar uma perspectiva integrativa, que una os aspectos biológicos e psíquicos na análise dos fenômenos mentais e comportamentais, promovendo uma compreensão mais abrangente do funcionamento humano.
3.5 LINGUAGEM
A linguagem é uma capacidade exclusivamente humana, resultante da interação entre estruturas cerebrais e de redes que processam informações motoras e sensoriais (Marco et al., 2011). O campo das neurociências dedica-se a compreender tais estruturas e funções cerebrais responsáveis por produzir e interpretar a linguagem.
Nesse contexto, Marco et al. (2011) destacam duas teorias que buscam explicar esse processo. A primeira, denominada Teoria Modular, propõe que o cérebro é composto por módulos, cada um dedicado a uma função específica da linguagem. Nessa visão, cada região cerebral processa diferentes aspectos linguísticos, como a fonologia, a sintaxe e a semântica, de forma independente, mas integrada. A segunda, denominada conexionista, considera o cérebro como uma rede integrada, na qual as funções linguísticas emergem da interação de diversas áreas e redes neurais, contribuindo simultaneamente para a produção e compreensão da fala (Marco et al., 2011). Contudo, ao considerar a linguagem estritamente nessa perspectiva (motora e sensorial) obtém-se um modelo que exclui a subjetividade (Cunha, 2001).
Na perspectiva psicanalítica, ao contrário, a linguagem é vista como estrutura e função do inconsciente (Castro, 2009). Nesse sentido, o inconsciente funciona não apenas como um repositório de memórias e impulsos reprimidos, mas também como uma instância dinâmica de significantes que gerenciam e organizam a linguagem. Ou seja, as camadas do inconsciente são reveladas por meio da linguagem (sua via régia de acesso), possibilitando a interpretação do sujeito falante nas suas peculiaridades, na medida em que ela é marcada pelo inconsciente, numa relação indissociável entre os alçamentos linguísticos e psíquicos. É essa dimensão que a psicanálise busca explorar, abordando fenômenos que vão além do escopo das neurociências (sem desconsiderá-lo), como os relatos de sonhos, os atos falhos e os chistes (Milner, 2010).
As reflexões apresentadas ilustram alguns pontos de convergência entre os 7 campos da psicanálise, da neurociência e da linguagem, mas é preciso sublinhar a multiplicidade de abordagens contemporâneas relativas a cada um deles, bem sintetizada por Messias (2022, p.6): “assim como a psicanálise, as neurociências são múltiplas em suas correntes, movimentos, dissidências… E do ponto de vista da linguagem, figura-se o império de dois prefixos poderosos…”.
4. CONCLUSÃO
Com base na revisão bibliográfica narrativa proposta, cuja argumentação reflete as digitais de seus autores, destaca-se a importância de uma compreensão integrada acerca do funcionamento humano, enriquecendo tanto o manejo clínico quanto o teórico. Nessa perspectiva, conclui-se que a resposta ao objetivo deste estudo é afirmativa: sim, é possível enunciar articulações entre psicanálise, neurociência e linguagem, algumas das quais assinaladas e discutidas aqui.
Vale ainda considerar que os beneficia dessa articulação permeia a prática clínica ao considerarmos que o desenvolvimento infantil, a destacar, o processo de aquisição de linguagem, por exemplo, não ocorre apenas de uma função neurológica, mas de um processo que advém também de interações simbólicas e afetivas.
E, a partir dessa rede conceitual, que franqueia articulações entre psicanálise, neurociências e linguagem, emerge um comentário final, endereçado àqueles que lidam com o funcionamento e com os transtornos da linguagem humana: considerar, simultaneamente, as relações entre corpo e mente, assumir sua indissociabilidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ÁVILA, L. A. Psicanálise e neurociências: as pulsões e o psicossoma. Revista Brasileira de Psicanálise, v. 53, n. 2, p. 141-158, 2019
BOCCHI, J. C.; VIANA, M. D. B. Freud, as neurociências e uma teoria da memória. Psicologia USP, v. 23, n. 3, p. 481–502, 2012.
BOCCHI, J. C. A recepção de Freud e da psicanálise no contexto das neurociências cognitivas: das sinapses de Eric Kandel ao sujeito corporal de António Damásio. v. 06, 2021.
CÂNDIDO, C. Experiência e complexidade cerebral: entre a psicanálise e as ciências cognitivas. 2009.
CASTRO, J. C. L. O inconsciente como linguagem: de Freud a Lacan. CASA: Cadernos de Semiótica Aplicada, v. 7, n. 1, 26 jul. 2009.
CUNHA, M. C. Fonoaudiologia e Psicanálise: a fronteira como território. 2. ed. São Paulo: Plexus, 2001.
FERREIRA, Y. F. et al. A relação entre a neurociência e a psicanálise: uma reflexão teórica. Ciências Biológicas e de Saúde Unit, Aracaju, v. 5, n. 3, p. 61-68, out. 2019.
FREUD, Sigmund. Uma nota sobre o bloco mágico (1925 [1924]). In: Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. Volume 19. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 3-14.
FREUD, Sigmund. Projeto para uma Psicologia Científica (1895). In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Volume I. Rio de Janeiro: Imago, 2006.
LACAN, Jacques. O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Tradução de Dulce Duque Estrada. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
MARCO, F. M.; RODRIGUES, K. A.; et al. Neurociência e Linguagem: desafios e superações interdisciplinares. Rio de Janeiro: Laboratório ACESIN/UFRJ, 2011.
MANTILLA, M. J. Psicanálise e neurociências: contornos difusos? Notas em torno da noção de plasticidade cerebral. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.24, supl., p.143- 155, nov. 2017.
MESSIAS, A. Psicanálise e neurociências: um diálogo possível? São Paulo: Blucher, 2022
MILNER, J. C. Linguística e Psicanálise. Rev. Estud. Lacan, v. 3, n. 4, Belo Horizonte, 2010.
PINHEIRO, E.; HERZOG, R. Psicanálise e neurociências: visões antagônicas ou compatíveis? Tempo Psicanalítico, v. 49, 2017.
RIBEIRO JÚNIOR, L. M.; SILVA, E. G. D. Os caminhos da memória em Freud: traço, rearranjo, tradução e índice. Diálogos Pertinentes, v. 17, n. 1, p. 68–91, 12 ago. 2021.
SANTOS, D. P. Aparelho psíquico, memória e a noção de tempo nos primeiros textos de Freud: sobre as vicissitudes da linguagem. Cadernos de Psicanálise (CPRJ), Rio de Janeiro, v. 41, n. 41, p. 21-37, jul./dez. 2019.
SCORZA, F. A.; CAVALHEIRO, E. A. Rev Psiq Clín. 2013; 40(3):122-3
[1] Mestrado em Comunicação Humana e Saúde; Pós-graduação lato-sensu em Neuropsicológia, Psicologia Hospitalar e Sexualidade Humana. Graduada em Psicologia. ORCID: 0009-0000-3407-3206. Currículo Lattes: https://lattes.cnpq.br/2372528432014368.
[2] Orientadora. Doutora em Psicologia Clínica e Professora titular da Faculdade de Ciências Humanas e Saúde da PUC-SP. ORCID: 0000-0003-3198-6995. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2008340293162204.
[3] Doutora em Psicologia Clínica e Professora assistente doutora da Faculdade de Ciências Humanas e Saúde da PUC-SP. ORCID: 0000-0002-9322-3291. Currículo Lattes: https://lattes.cnpq.br/9285279875746982.
[4] Doutor em Psicologia Clínica e professor titular da Faculdade de CiênciasbHumanas e Saúde da PUC-SP. ORCID: 0000-0003-4968-9753. Currículo Lattes: https://lattes.cnpq.br/9795645966787486.
Material recebido: 13 de novembro de 2024.
Material aprovado pelos pares: 25 de novembro de 2024.
Material editado aprovado pelos autores: 18 de março de 2025.